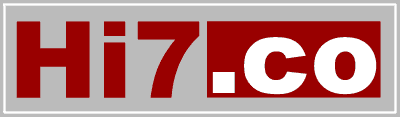Cultura




Benedito NUNES*
* Prof. do Departamento de Letras da UFAM
Reproduzido de Revista Expressão. UFPI, Teresina, 2(1)77-90, jan.-jul/ 1995 (crédito conforme o orientado no impresso)
Por força de tal incumbência tomaria contacto com o espólio da escritora. A surpresa foi chocante: para os vinte e cinco livros de Clarice Lispector, só encontramos um original completo o datiloscristo da coletânea por ela própria organizada dos seus primeiros contos, escritos em 1940 a 1941, entre 15 e 16 anos de idade, inéditos até 1979, quando foram editados postumamente sob o título de A Bela e a Fera. Excluída essa parte incipiente, imatura, da obra, no sentido de instância seminal do que foi realizado logo depois, pouco ou quase nada resta dos originais de Clarice Lispector.
Dividido, ainda hoje, ém dois acervos distintos, um público, acessível à consulta, e outro privado, pertencente aos herdeiros, o espólio literário de Clarice Lispector tem toda a aparência de uma coleção fortuita de despojos, pois o que aí prepondera, em contrastes com o datiloscrito antes referido ? peça solitária e mesmo excepcional, dadas as correções de próprio punho da escritora que dele constam ? são originais manuscritos, ou incompletos, como os de A Hora da Estrela e Água Viva, ou em forma fragmentada, como aqueles com os quais Olga Borelli organizou os últimos escritos postumamente editados ? Um So-pro de Vida (Pulsações) e os contos Um Dia a Menos e A Bela e a Fera ou a Fenda Grande Demais, incluidos na coletânea de 1979, já citada, que tomou aquele nome, A Bela e a Fera.
Nada, nem sinal havia do objeto específico de minha busca ? os originais de A Paixão. Pode-se imaginar o problema decorrente desse vazio Como se justificaria a realização de uma edição crítica do romance sem a reprodução do seu texto original, manuscrito ou datiloscrito? Mas segundo critério do editor A Paixão não poderia, pela sua importância, ficar excluída da coleção Archives dos livros de ficção representativos da literatura latino-americana. E, a exceção quebrando a regra, a obra acabou saindo assim mesmo ? privada da matriz de seu aparato crítico, embora compensada a falha pela inclusão no mesmo volume do facsímile do original do conto ? A Bela e a Fera ou Uma Feriada Grande Demais, obtido no Museu de Literatura (Casa Rui Barbosa) do Rio de Janeiro.
O primeiro tópico a ser abordado nesta ocasião é a importância do texto que me apaixona: diremos quais nos parecem ser as razões da insistência do editor em publicá-lo na sua coleção internacional, subsidiada mediante convênio com vários países da América Latina
O segundo e último tópico é o processo de escrita de Clarice Lispector, em íntima relação com a ascendência que o trabalho da linguagem tomou em sua obra, de modo particular naquele texto passional e apaixonante ? processo de escrita que, juntando forças como o acaso e a negligência, teria contri-huido para o estado final de pobreza do espólio da romancista.
A Paixão Segundo G. H. (1964) é o livro maior de Clarice Lispector ? maior no sentido de ser aquele que amplia os aspectos singulares de sua obra, extremando as possibilidades que nela se concretizam ? mas também um dos textos mais originais da moderna ficção brasileira. Tal como uma lente de aumento reveledora abre para o leitor e para o crítico, pelo poder de envolvimento da narrativa, a fronteira entre o real e o imaginário, entre linguagem e mundo, por onde jorra a fonte poética de toda ficção. Essa, a razão mais geral que justificava a insistência de editor.
De um lado A Paixão Segundo G. H. condensa a linha interiorizada de criação ficcional que Clarice Lispector adotou desde o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem (1944), linha que alcança naquele o seu ponto de viragem, por outro é um romance singular, não tanto em função da sua história quanto pela introspecção exacerbada, que condiciona o ato de contá-la, transformado em empate da narradora com a linguagem, levada a domínios que ultrapassam os limites da expressão verbal. Da singularidade do romance ? a segunda e definitiva razão ? trataremos daqui por diante.
O embate da narradora com a linguagem acompanha a tumultuosa narrativa de um êxtase. Quem a faz, sob o efeito da fascinação que sobre ela exerce uma barata doméstica, é G. H., personagem solitária designada pelas iniciais de seu nome ignorado.
Mulher de vida ordenada, independente, mundana, pratica escultura e mora num apartamento de cobertura ? localização privilegiada no topo da hierarquia social. Certa manhã, entra no quarto da empregada: arrumaria na ausência de sua ocupante, que se despedira, esse cubículo desolado, ? mal cabem ali guarda-roupa e cama ? onde ingressa pela primeira vez como se penetrasse em casa estranha, tanto se diferençava aquele quarto dos cômodos restantes.
É lá que vê o inseto; vê-lo emergir do fundo do guarda-roupa; bruscamente bate em cima dele a porta do móvel; e olha sua vítima inerme, esmagada, antes de dar-lhe o golpe de misericórdia:
 Sob o fascínio repugnante da barata que mata, num assomo de cólera, tomada por um espasmo de náusea seca ? ela acabará pondo na boca a massa branca extravasada do inseto -G. H. experimenta o arrebatamento de prolongado êxtase A desorganização de sua existência arrumada, o transtorno de sua individualidade própria, conseqüente a esse estado de alheamento, a dificuldade para voltar a si a mesma e a impotência da personagem para narrar o sucedido ? eis todo o enredo desse romance, se é que de enredo ainda se pode falar.
Sob o fascínio repugnante da barata que mata, num assomo de cólera, tomada por um espasmo de náusea seca ? ela acabará pondo na boca a massa branca extravasada do inseto -G. H. experimenta o arrebatamento de prolongado êxtase A desorganização de sua existência arrumada, o transtorno de sua individualidade própria, conseqüente a esse estado de alheamento, a dificuldade para voltar a si a mesma e a impotência da personagem para narrar o sucedido ? eis todo o enredo desse romance, se é que de enredo ainda se pode falar.
Passional na medida das paixões rudimentares e vertiginosas que descreve , A Paixão Segundo G. H. é patético na sua forma de expressão intensificada, calorosa, que emocionalmente se alteia seguindo o rastilho de imagens ardentes, encadeadas a idéias abstratas durante uma narração estirada, monólogo quase diálogo, graças ao expediente retórico, ao mesmo tempo signo de insuportável solidão da narradora-personagem, que finge segurai a mão de alguém enquanto escreve
 O seco, o úmido, o árido, estão entre as qualidades sensíveis primárias que fornecem a gama das imagens descritivas dos estados de alheamento por que passa G. H , saindo do recesso de sua subjetividade para o elemento impessoal, anônimo e estranho da coisa, da matéria viva, com que se identifica numa espécie de união estática. Estágios de um percurso de dor e alegria, de amor e ódio. chegando ao Inferno e ao Paraíso, ao sofrimento e à glória. Nessas paragens escatológicas, liberação e condenação, salvação e perda, se entremisturam para a personagem-narradora, privada, como se morta estivesse, de sua organização humana:
O seco, o úmido, o árido, estão entre as qualidades sensíveis primárias que fornecem a gama das imagens descritivas dos estados de alheamento por que passa G. H , saindo do recesso de sua subjetividade para o elemento impessoal, anônimo e estranho da coisa, da matéria viva, com que se identifica numa espécie de união estática. Estágios de um percurso de dor e alegria, de amor e ódio. chegando ao Inferno e ao Paraíso, ao sofrimento e à glória. Nessas paragens escatológicas, liberação e condenação, salvação e perda, se entremisturam para a personagem-narradora, privada, como se morta estivesse, de sua organização humana:
 A glória se associa à "larga vida do silêncio" que também fosse a entrada num deserto:
A glória se associa à "larga vida do silêncio" que também fosse a entrada num deserto:
 Mas se podemos afirmar que a obra de Clarice Lispector é de um polissemia perturbadora, o que nela "tira seu sentido daquilo que se diz pela letra", não pertence, como na Divina Comédia, à escala figurai do alegórico. Como se transitasse entre escombros da visão danteana, a simbologia religiosa utilizada por G. H não é mais, apesar da inflexão teológica de seu longo solilóquio, no tom confessional de uma penitente, a ilustração sensível do destino sobrenatural da alma humana Infer no e paraíso são o clímax patético da alma, o auge de um autoconhecimento vertiginoso enquanto descida no abismo da interioridade.
Mas se podemos afirmar que a obra de Clarice Lispector é de um polissemia perturbadora, o que nela "tira seu sentido daquilo que se diz pela letra", não pertence, como na Divina Comédia, à escala figurai do alegórico. Como se transitasse entre escombros da visão danteana, a simbologia religiosa utilizada por G. H não é mais, apesar da inflexão teológica de seu longo solilóquio, no tom confessional de uma penitente, a ilustração sensível do destino sobrenatural da alma humana Infer no e paraíso são o clímax patético da alma, o auge de um autoconhecimento vertiginoso enquanto descida no abismo da interioridade.
Se A Paixão Segundo G H. faz jus à classificação de ro mance alegórico, sê-lo-á não no sentido medieval, mas no barroco de figuração multíplice de significação inexaurível, ou, como precisou o pensador judeu Gershom Scholem, retomando o conceito de alegoria de Walter Benjamin, de uma "rede infinita de significados e correlações em que tudo pode se transformar na representação de tudo, mas sempre dentro dos limites da linguagem e da expressão". Devido à multivalência das imagens e conceitos que o relato do estado de êxtase une, tudo nesse texto é um cerrado jogo de aparências sob o império de penosa e perversa ambigüidade.
O sacrifício da identidade pessoal de G.H., "a perda de tudo o que se possa perder e ainda ser" aparenta-se à crise violenta que anuncia uma conversão religiosa. Mas despojada de si mesma, mergulhando num momento de existência abismal que elimina o "individual supérfluo?, ela se anula como pessoa, nivelada à barata Infringindo a interdição hebraica de tocar no imundo, no impuro, no repugnante, também grotesco, assalta-a o acerbo sentimento da falta cometida, sem que rejeite o Pecado. E quando, afinal, comunga a massa branca do inseto transformado em Hóstia, esse ato assume a aparência de uma profanação, do nefando crime de sacrilégio.
A natureza crua da vida a que ela acede é ambígua: domínio do orgânico, do biológico, anterior à consciência, e também dimensão do sagrado, interdito e acessível, ameaçador e apaziguador, potente e inativo E ambíguo é o amor que o êxtase provoca: oposto ao ágape do cristianismo, impulsivo como o eros pagão, esse amor tende ao arrebatamento orgiástico e ao entusiasmo, precursor da transfusão dos coribantes no seio da divindade
Enfim, oscilando entre tudo e nada, do esvaziamento do Eu à plenitude vazia, a experiência crucial de G H., contraditória e paradoxal, emudece-lhe o entendimento e tolhe a sua palavra:

Porém alertamos para o fato de que a visão transtornante da personagem-narradora é inseparável do ato de contá-la, como tentativa sua para reapossar-se do momento de iluminação estática, anterior ao começo da narração, e que a desapossou de si mesma. Só enquanto lembrança, na ordem sucessiva do discurso, poderá a narrativa substituir a subitaneidade do transe visionário. E, restituindo-o, devolver também ao novo Eu da enunciação em que o papel de narradora investe G H. , a identidade cuja perda constitui o cerne de sua história. Dividida entre a perda e a reconquista, entre o presente e o passado, o ato de narrar, dubitativo, voz indecisa de quem o perfaz, sem nenhuma certeza quanto ao que viveu e lhe terá sucedido, é um "relato dificultoso" e será menos um relato que uma construção do acontecimento:
 Viver não é relatável: o momento da vivência, instantâneo, escapa à palavra que expressa. Viver não é vivível : a narrativa, enlace discursivo de significações, recria aquilo que se quis reproduzir. E como reproduzir o instante do êxtase, mudo, sem palavras, que remonta a um mundo não verbalizável?
Viver não é relatável: o momento da vivência, instantâneo, escapa à palavra que expressa. Viver não é vivível : a narrativa, enlace discursivo de significações, recria aquilo que se quis reproduzir. E como reproduzir o instante do êxtase, mudo, sem palavras, que remonta a um mundo não verbalizável?
À simples experiência imediata faltaria a palavra que lhe dá sentido, e a pura entrega ao imaginário cairia numa verbalização irredutível à experiência. A primeira nos fecharia num mundo pré-verbal, mentindo à linguagem; a segunda nos fecharia numa linguagem sem mundo, mentindo à realidade Criar consiste na infindável remissão do imaginário ao real e do real ao imaginário, como movimento da escrita, que traduz "O desconhecido para uma língua que desconheço?"
Em A Paixão Segundo G.H., a consciência da linguagem enquanto simbolização do que não pode ser inteiramente verbalizado, incorpora-se à ficção regida pelo movimento da escrita, que arrasta consigo os vestígios do mundo pré-verbal e as marcas "arqueológicas" do imaginário até onde desceu. G. H. tenta dizer a coisa sem nome, descortinada no instante do êxtase, e que entremostra no silêncio intervalar das palavras. Ivlas o que ela enuncia não pode deixar de simbolizar o substrato inconsciente da narração que, matéria comum aos sonhos e aos mitos, sobe das camadas profundas do imaginário que constituem o sub-solo da ficção. O "arqueológico" da ficção alimenta o que há de sacral e escatológico na possível alegoria.
É dramática a consciência da linguagem que acompanha o esforço da narradora para recuperar o transe visionário que a alienou. Daí tornar-se a narrativa o espaço agônico de quem narra e do sentido de sua narração ? o espaço onde a narrativa erra, isto é, onde ela se busca, buscando o sentido do real, que só se atinge quando a linguagem fracassa em dizê-lo:
 Do processo da linguagem resulta a ficção erradia, "mais um grafismo do que uma escrita?" No entanto, considere-se que a visão de G. H , como se pode perceber pelo contraponto meditativo anterior acerca de seu "relato dificultoso", nunca se manifesta independentemente do pensamento conceptual que indaga, que interroga, que exclama, que especula, comentando e interpretando a iluminação estática, recuperada como lembrança, conforme ressalta a cadeia reflexiva dos temas ? Deus, arte, linguagem, beleza, entre muitos outros, que se estende de ponta a ponta do romance. A narração vira "meditação visual", e esta constitui um grafismo, uma criptografia ? escrita de fascinação, com algo de luminoso, perpertuando a sedução da barata esmagada.
Do processo da linguagem resulta a ficção erradia, "mais um grafismo do que uma escrita?" No entanto, considere-se que a visão de G. H , como se pode perceber pelo contraponto meditativo anterior acerca de seu "relato dificultoso", nunca se manifesta independentemente do pensamento conceptual que indaga, que interroga, que exclama, que especula, comentando e interpretando a iluminação estática, recuperada como lembrança, conforme ressalta a cadeia reflexiva dos temas ? Deus, arte, linguagem, beleza, entre muitos outros, que se estende de ponta a ponta do romance. A narração vira "meditação visual", e esta constitui um grafismo, uma criptografia ? escrita de fascinação, com algo de luminoso, perpertuando a sedução da barata esmagada.

É justamente a ficção erradia, derivada desse misticismo, o ponto de viragem da obra de Clarice Lispector, iniciada em Perto do Coração Selvagem, sob a perspectiva da instropecção que culmina no êxtase de G. H
À época em que esse primeiro romance foi publicado, essa perspectiva representou um desvio estético relativamente aos padrões dominantes da prosa modernista em 1922 e da ficção de recorte neo-naturalista dos anos trinta, desvio que vinculou a autora, por afinidade, a Mareei Proust, Virginia Woolf e James Joyce, os fiecionistas da corrente da consciência ou da duração interior. A culminância daquela perspectiva em A Paixão Segundo G. H. é o transbordamento pletórico da dialética da experiência vivida ? a tensão entre a intuição instantânea e a sua expressão verbal mediada pela memória, que naturalizou o desvio estético como força propulsiva da ficção de Clarice Lispector.
A Paixão Segundo G. H., que extremou a consciência da linguagem já manifesta, depois de Perto do Coração Selvagem, em O Lustre (1946), A Cidade Sitiada (1949) e A Maçã no Escuro (1961), exacerbou esse desvio. Após o seu quinto romance, Clarice Lispector infringirá o molde histórico da criação romanesca e as convenções identificadoras da ficção em Água Viva (1974) e Um Sopro de Vida (1978).
O sinal inequívoco do ponto de viragem para esses textos é o gesto patético de G. H , que segura a mão de uma segunda pessoa enquanto está narrando, sem o que ela não poderia continuar o seu "difícil relato":
 Sendo um expediente ficcional que amplia a dramaticidade danarrativa e autentica o paroxismo da personagem, esse gesto dialogai dirigido a um tu localizado na fímbria da narrativa, irrompe no solilóquio, como proposta de um novo pacto com o leitor, considerado suporte ativo da elaboração ficcional -partícipe ou colaborador ? que deverá continuá-la.
Sendo um expediente ficcional que amplia a dramaticidade danarrativa e autentica o paroxismo da personagem, esse gesto dialogai dirigido a um tu localizado na fímbria da narrativa, irrompe no solilóquio, como proposta de um novo pacto com o leitor, considerado suporte ativo da elaboração ficcional -partícipe ou colaborador ? que deverá continuá-la.
Por esse motivo. A Paixão Segundo G H., onde vem culminar a dialética da experiência vivida, favorece a compreensão retrospectiva da ficcionista Clarice Uspector e contribui também para elucidá-la prospectivamente. Dessa forma, a gênese do romance que é, como possibilidade, o horizonte na direção do qual ela se move desde o início, está relacionado com o desenvolvimento de toda a sua obra.
Daí a relevância do fragmento como vestígio do instantâneo, que podemos surpreender no manuscrito incompleto de A Dela e a Fera ou Uma Ferida Grande Demais A comparação do texto primitivo com o texto em sua forma definitiva impressa revelaria a máxima proximidade entre o momento da elaboração e o momento de composição na escrita narrativa de Clarice Lispector Indelével, o momento da elaboração estampa-se na grafia tortuosa ? enviezada algumas vezes, ocupando as margens do papel ou desenvolvendo-se em linhas verticais ? do texto primitivo, também invadido por anotações circunstanciais estranhas ao curso da narrativa ? entre outras, o nome de um dentista a visitar ou o lembrete INPS lançados em uma folha avulsa. Tortuosa grafia da escrita vertiginosa de uma ficção erradia que culminou em A Paixão Segundo G. H.
De certo modo uma ritualização dessa vertigem como "misticismo da escrita" ? embate verbal com a experiência vivida, e, nesse sentido, tentativa para narrar o que não é narrável, A Paixão Segundo G H. traz a efervescência de seu momento de elaboração, concentrado no esforço poético da linguagem para dizer o indizível, que o momento da composição calcinaria
"A linguagem é o meu esforço humano Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas ? volto com o indizível O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.?
Nessa auto-revelação que o texto maior de Clarice Lispector parece fazer de sua própria gênese, a falha da construção ? vitória e fracasso da linguagem ? subsistiria como fragmento.
Esta suposição, que não poderá ser posta à prova, torna irreparável a perda dos originais de uma narrativa que se extremou na fixação do instante.
Por força de tal incumbência tomaria contacto com o espólio da escritora. A surpresa foi chocante: para os vinte e cinco livros de Clarice Lispector, só encontramos um original completo o datiloscristo da coletânea por ela própria organizada dos seus primeiros contos, escritos em 1940 a 1941, entre 15 e 16 anos de idade, inéditos até 1979, quando foram editados postumamente sob o título de A Bela e a Fera. Excluída essa parte incipiente, imatura, da obra, no sentido de instância seminal do que foi realizado logo depois, pouco ou quase nada resta dos originais de Clarice Lispector.
Dividido, ainda hoje, ém dois acervos distintos, um público, acessível à consulta, e outro privado, pertencente aos herdeiros, o espólio literário de Clarice Lispector tem toda a aparência de uma coleção fortuita de despojos, pois o que aí prepondera, em contrastes com o datiloscrito antes referido ? peça solitária e mesmo excepcional, dadas as correções de próprio punho da escritora que dele constam ? são originais manuscritos, ou incompletos, como os de A Hora da Estrela e Água Viva, ou em forma fragmentada, como aqueles com os quais Olga Borelli organizou os últimos escritos postumamente editados ? Um So-pro de Vida (Pulsações) e os contos Um Dia a Menos e A Bela e a Fera ou a Fenda Grande Demais, incluidos na coletânea de 1979, já citada, que tomou aquele nome, A Bela e a Fera.
Nada, nem sinal havia do objeto específico de minha busca ? os originais de A Paixão. Pode-se imaginar o problema decorrente desse vazio Como se justificaria a realização de uma edição crítica do romance sem a reprodução do seu texto original, manuscrito ou datiloscrito? Mas segundo critério do editor A Paixão não poderia, pela sua importância, ficar excluída da coleção Archives dos livros de ficção representativos da literatura latino-americana. E, a exceção quebrando a regra, a obra acabou saindo assim mesmo ? privada da matriz de seu aparato crítico, embora compensada a falha pela inclusão no mesmo volume do facsímile do original do conto ? A Bela e a Fera ou Uma Feriada Grande Demais, obtido no Museu de Literatura (Casa Rui Barbosa) do Rio de Janeiro.
O primeiro tópico a ser abordado nesta ocasião é a importância do texto que me apaixona: diremos quais nos parecem ser as razões da insistência do editor em publicá-lo na sua coleção internacional, subsidiada mediante convênio com vários países da América Latina
O segundo e último tópico é o processo de escrita de Clarice Lispector, em íntima relação com a ascendência que o trabalho da linguagem tomou em sua obra, de modo particular naquele texto passional e apaixonante ? processo de escrita que, juntando forças como o acaso e a negligência, teria contri-huido para o estado final de pobreza do espólio da romancista.
A Paixão Segundo G. H. (1964) é o livro maior de Clarice Lispector ? maior no sentido de ser aquele que amplia os aspectos singulares de sua obra, extremando as possibilidades que nela se concretizam ? mas também um dos textos mais originais da moderna ficção brasileira. Tal como uma lente de aumento reveledora abre para o leitor e para o crítico, pelo poder de envolvimento da narrativa, a fronteira entre o real e o imaginário, entre linguagem e mundo, por onde jorra a fonte poética de toda ficção. Essa, a razão mais geral que justificava a insistência de editor.
De um lado A Paixão Segundo G. H. condensa a linha interiorizada de criação ficcional que Clarice Lispector adotou desde o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem (1944), linha que alcança naquele o seu ponto de viragem, por outro é um romance singular, não tanto em função da sua história quanto pela introspecção exacerbada, que condiciona o ato de contá-la, transformado em empate da narradora com a linguagem, levada a domínios que ultrapassam os limites da expressão verbal. Da singularidade do romance ? a segunda e definitiva razão ? trataremos daqui por diante.
O embate da narradora com a linguagem acompanha a tumultuosa narrativa de um êxtase. Quem a faz, sob o efeito da fascinação que sobre ela exerce uma barata doméstica, é G. H., personagem solitária designada pelas iniciais de seu nome ignorado.
Mulher de vida ordenada, independente, mundana, pratica escultura e mora num apartamento de cobertura ? localização privilegiada no topo da hierarquia social. Certa manhã, entra no quarto da empregada: arrumaria na ausência de sua ocupante, que se despedira, esse cubículo desolado, ? mal cabem ali guarda-roupa e cama ? onde ingressa pela primeira vez como se penetrasse em casa estranha, tanto se diferençava aquele quarto dos cômodos restantes.
É lá que vê o inseto; vê-lo emergir do fundo do guarda-roupa; bruscamente bate em cima dele a porta do móvel; e olha sua vítima inerme, esmagada, antes de dar-lhe o golpe de misericórdia:
 Sob o fascínio repugnante da barata que mata, num assomo de cólera, tomada por um espasmo de náusea seca ? ela acabará pondo na boca a massa branca extravasada do inseto -G. H. experimenta o arrebatamento de prolongado êxtase A desorganização de sua existência arrumada, o transtorno de sua individualidade própria, conseqüente a esse estado de alheamento, a dificuldade para voltar a si a mesma e a impotência da personagem para narrar o sucedido ? eis todo o enredo desse romance, se é que de enredo ainda se pode falar.
Sob o fascínio repugnante da barata que mata, num assomo de cólera, tomada por um espasmo de náusea seca ? ela acabará pondo na boca a massa branca extravasada do inseto -G. H. experimenta o arrebatamento de prolongado êxtase A desorganização de sua existência arrumada, o transtorno de sua individualidade própria, conseqüente a esse estado de alheamento, a dificuldade para voltar a si a mesma e a impotência da personagem para narrar o sucedido ? eis todo o enredo desse romance, se é que de enredo ainda se pode falar.
Passional na medida das paixões rudimentares e vertiginosas que descreve , A Paixão Segundo G. H. é patético na sua forma de expressão intensificada, calorosa, que emocionalmente se alteia seguindo o rastilho de imagens ardentes, encadeadas a idéias abstratas durante uma narração estirada, monólogo quase diálogo, graças ao expediente retórico, ao mesmo tempo signo de insuportável solidão da narradora-personagem, que finge segurai a mão de alguém enquanto escreve
 O seco, o úmido, o árido, estão entre as qualidades sensíveis primárias que fornecem a gama das imagens descritivas dos estados de alheamento por que passa G. H , saindo do recesso de sua subjetividade para o elemento impessoal, anônimo e estranho da coisa, da matéria viva, com que se identifica numa espécie de união estática. Estágios de um percurso de dor e alegria, de amor e ódio. chegando ao Inferno e ao Paraíso, ao sofrimento e à glória. Nessas paragens escatológicas, liberação e condenação, salvação e perda, se entremisturam para a personagem-narradora, privada, como se morta estivesse, de sua organização humana:
O seco, o úmido, o árido, estão entre as qualidades sensíveis primárias que fornecem a gama das imagens descritivas dos estados de alheamento por que passa G. H , saindo do recesso de sua subjetividade para o elemento impessoal, anônimo e estranho da coisa, da matéria viva, com que se identifica numa espécie de união estática. Estágios de um percurso de dor e alegria, de amor e ódio. chegando ao Inferno e ao Paraíso, ao sofrimento e à glória. Nessas paragens escatológicas, liberação e condenação, salvação e perda, se entremisturam para a personagem-narradora, privada, como se morta estivesse, de sua organização humana:
 A glória se associa à "larga vida do silêncio" que também fosse a entrada num deserto:
A glória se associa à "larga vida do silêncio" que também fosse a entrada num deserto:
 A generalidade do sacrifício da paixão de G. H., pois que ela encontra em si "a mulher de todas as mulheres?, dá ao seu percurso o sentimento de uma peregrinação da alma, à semelhança de um intinerário espiritual, como nos escritos místicos de natureza confessional, mais freqüentes dentro da tradição cristã e menos dentro da hebraica, inspirados na interpretação alegórica dos textos sagrados.
A generalidade do sacrifício da paixão de G. H., pois que ela encontra em si "a mulher de todas as mulheres?, dá ao seu percurso o sentimento de uma peregrinação da alma, à semelhança de um intinerário espiritual, como nos escritos místicos de natureza confessional, mais freqüentes dentro da tradição cristã e menos dentro da hebraica, inspirados na interpretação alegórica dos textos sagrados.
Mais justificada parece a pergunta quando se constata, seja pela entrada e saída, de aridez, secura, solidão e silencio, seja pela contraditória visão do que é inefável (nada, gloria, realidade primária), o "contexto místico? do intinerário sacrificial de G.H. Pois, como não associar os freqüentes oxímoros ? "horrível mal estar feliz", "prazer infernal" ? os paradoxos e contradições com uma primary languagem of mysticism de que fala Charles Morris? E como não pensar nas entradas de Sta. Tereza DÁvila. na quietude do silêncio e no deserto de Mister Echardt?
Se A Paixão Segundo G H. faz jus à classificação de ro mance alegórico, sê-lo-á não no sentido medieval, mas no barroco de figuração multíplice de significação inexaurível, ou, como precisou o pensador judeu Gershom Scholem, retomando o conceito de alegoria de Walter Benjamin, de uma "rede infinita de significados e correlações em que tudo pode se transformar na representação de tudo, mas sempre dentro dos limites da linguagem e da expressão". Devido à multivalência das imagens e conceitos que o relato do estado de êxtase une, tudo nesse texto é um cerrado jogo de aparências sob o império de penosa e perversa ambigüidade.
O sacrifício da identidade pessoal de G.H., "a perda de tudo o que se possa perder e ainda ser" aparenta-se à crise violenta que anuncia uma conversão religiosa. Mas despojada de si mesma, mergulhando num momento de existência abismal que elimina o "individual supérfluo?, ela se anula como pessoa, nivelada à barata Infringindo a interdição hebraica de tocar no imundo, no impuro, no repugnante, também grotesco, assalta-a o acerbo sentimento da falta cometida, sem que rejeite o Pecado. E quando, afinal, comunga a massa branca do inseto transformado em Hóstia, esse ato assume a aparência de uma profanação, do nefando crime de sacrilégio.
A natureza crua da vida a que ela acede é ambígua: domínio do orgânico, do biológico, anterior à consciência, e também dimensão do sagrado, interdito e acessível, ameaçador e apaziguador, potente e inativo E ambíguo é o amor que o êxtase provoca: oposto ao ágape do cristianismo, impulsivo como o eros pagão, esse amor tende ao arrebatamento orgiástico e ao entusiasmo, precursor da transfusão dos coribantes no seio da divindade
Enfim, oscilando entre tudo e nada, do esvaziamento do Eu à plenitude vazia, a experiência crucial de G H., contraditória e paradoxal, emudece-lhe o entendimento e tolhe a sua palavra:

Porém alertamos para o fato de que a visão transtornante da personagem-narradora é inseparável do ato de contá-la, como tentativa sua para reapossar-se do momento de iluminação estática, anterior ao começo da narração, e que a desapossou de si mesma. Só enquanto lembrança, na ordem sucessiva do discurso, poderá a narrativa substituir a subitaneidade do transe visionário. E, restituindo-o, devolver também ao novo Eu da enunciação em que o papel de narradora investe G H. , a identidade cuja perda constitui o cerne de sua história. Dividida entre a perda e a reconquista, entre o presente e o passado, o ato de narrar, dubitativo, voz indecisa de quem o perfaz, sem nenhuma certeza quanto ao que viveu e lhe terá sucedido, é um "relato dificultoso" e será menos um relato que uma construção do acontecimento:

a narrativa, enlace discursivo de significações, recria aquilo que se quis reproduzir. E como reproduzir o instante do êxtase, mudo, sem palavras, que remonta a um mundo não verbalizável?
À simples experiência imediata faltaria a palavra que lhe dá sentido, e a pura entrega ao imaginário cairia numa verbalização irredutível à experiência. A primeira nos fecharia num mundo pré-verbal, mentindo à linguagem; a segunda nos fecharia numa linguagem sem mundo, mentindo à realidade Criar consiste na infindável remissão do imaginário ao real e do real ao imaginário, como movimento da escrita, que traduz "O desconhecido para uma língua que desconheço?"
Em A Paixão Segundo G.H., a consciência da linguagem enquanto simbolização do que não pode ser inteiramente verbalizado, incorpora-se à ficção regida pelo movimento da escrita, que arrasta consigo os vestígios do mundo pré-verbal e as marcas "arqueológicas" do imaginário até onde desceu. G. H. tenta dizer a coisa sem nome, descortinada no instante do êxtase, e que entremostra no silêncio intervalar das palavras. Ivlas o que ela enuncia não pode deixar de simbolizar o substrato inconsciente da narração que, matéria comum aos sonhos e aos mitos, sobe das camadas profundas do imaginário que constituem o sub-solo da ficção.

É dramática a consciência da linguagem que acompanha o esforço da narradora para recuperar o transe visionário que a alienou. Daí tornar-se a narrativa o espaço agônico de quem narra e do sentido de sua narração ? o espaço onde a narrativa erra, isto é, onde ela se busca, buscando o sentido do real, que só se atinge quando a linguagem fracassa em dizê-lo:
 Do processo da linguagem resulta a ficção erradia, "mais um grafismo do que uma escrita?" No entanto, considere-se que a visão de G. H , como se pode perceber pelo contraponto meditativo anterior acerca de seu "relato dificultoso", nunca se manifesta independentemente do pensamento conceptual que indaga, que interroga, que exclama, que especula, comentando e interpretando a iluminação estática, recuperada como lembrança, conforme ressalta a cadeia reflexiva dos temas ? Deus, arte, linguagem, beleza, entre muitos outros, que se estende de ponta a ponta do romance. A narração vira "meditação visual", e esta constitui um grafismo, uma criptografia ? escrita de fascinação, com algo de luminoso, perpertuando a sedução da barata esmagada
Do processo da linguagem resulta a ficção erradia, "mais um grafismo do que uma escrita?" No entanto, considere-se que a visão de G. H , como se pode perceber pelo contraponto meditativo anterior acerca de seu "relato dificultoso", nunca se manifesta independentemente do pensamento conceptual que indaga, que interroga, que exclama, que especula, comentando e interpretando a iluminação estática, recuperada como lembrança, conforme ressalta a cadeia reflexiva dos temas ? Deus, arte, linguagem, beleza, entre muitos outros, que se estende de ponta a ponta do romance. A narração vira "meditação visual", e esta constitui um grafismo, uma criptografia ? escrita de fascinação, com algo de luminoso, perpertuando a sedução da barata esmagada
Dir-se-ia que a narrativa, com o que tem de numinoso, trás a fluxo, exacerbada, a introspecção, tudo o ,que escrever implica de ameaçador e de metamórfico Antes de ser mística, a visão de G. H. pertence ao misticismo da escrita.
É justamente a ficção erradia, derivada desse misticismo, o ponto de viragem da obra de Clarice Lispector, iniciada em Perto do Coração Selvagem, sob a perspectiva da instropecção que culmina no êxtase de G. H
À época em que esse primeiro romance foi publicado, essa perspectiva representou um desvio estético relativamente aos padrões dominantes da prosa modernista em 1922 e da ficção de recorte neo-naturalista dos anos trinta, desvio que vinculou a autora, por afinidade, a Mareei Proust, Virginia Woolf e James Joyce, os fiecionistas da corrente da consciência ou da duração interior.
A culminância daquela perspectiva em A Paixão Segundo G. H. é o transbordamento pletórico da dialética da experiência vivida ? a tensão entre a intuição instantânea e a sua expressão verbal mediada pela memória, que naturalizou o desvio estético como força propulsiva da ficção de Clarice Lispector.
A Paixão Segundo G. H., que extremou a consciência da linguagem já manifesta, depois de Perto do Coração Selvagem, em O Lustre (1946), A Cidade Sitiada (1949) e A Maçã no Escuro (1961), exacerbou esse desvio. Após o seu quinto romance, Clarice Lispector infringirá o molde histórico da criação romanesca e as convenções identificadoras da ficção em Água Viva (1974) e Um Sopro de Vida (1978).
O sinal inequívoco do ponto de viragem para esses textos é o gesto patético de G. H , que segura a mão de uma segunda pessoa enquanto está narrando, sem o que ela não poderia continuar o seu "difícil relato":
 Sendo um expediente ficcional que amplia a dramaticidade danarrativa e autentica o paroxismo da personagem, esse gesto dialogai dirigido a um tu localizado na fímbria da narrativa, irrompe no solilóquio, como proposta de um novo pacto com o leitor, considerado suporte ativo da elaboração ficcional -partícipe ou colaborador ? que deverá continuá-la.
Sendo um expediente ficcional que amplia a dramaticidade danarrativa e autentica o paroxismo da personagem, esse gesto dialogai dirigido a um tu localizado na fímbria da narrativa, irrompe no solilóquio, como proposta de um novo pacto com o leitor, considerado suporte ativo da elaboração ficcional -partícipe ou colaborador ? que deverá continuá-la.
Por esse motivo.
A Paixão Segundo G H., onde vem culminar a dialética da experiência vivida, favorece a compreensão retrospectiva da ficcionista Clarice Uspector e contribui também para elucidá-la prospectivamente. Dessa forma, a gênese do romance que é, como possibilidade, o horizonte na direção do qual ela se move desde o início, está relacionado com o desenvolvimento de toda a sua obra.
Daí a relevância do fragmento como vestígio do instantâneo, que podemos surpreender no manuscrito incompleto de A Dela e a Fera ou Uma Ferida Grande Demais A comparação do texto primitivo com o texto em sua forma definitiva impressa revelaria a máxima proximidade entre o momento da elaboração e o momento de composição na escrita narrativa de Clarice Lispector Indelével, o momento da elaboração estampa-se na grafia tortuosa ? enviezada algumas vezes, ocupando as margens do papel ou desenvolvendo-se em linhas verticais ? do texto primitivo, também invadido por anotações circunstanciais estranhas ao curso da narrativa ? entre outras, o nome de um dentista a visitar ou o lembrete INPS lançados em uma folha avulsa. Tortuosa grafia da escrita vertiginosa de uma ficção erradia que culminou em A Paixão Segundo G. H.
De certo modo uma ritualização dessa vertigem como "misticismo da escrita" ? embate verbal com a experiência vivida, e, nesse sentido, tentativa para narrar o que não é narrável, A Paixão Segundo G H. traz a efervescência de seu momento de elaboração, concentrado no esforço poético da linguagem para dizer o indizível, que o momento da composição calcinaria
"A linguagem é o meu esforço humano Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas ? volto com o indizível O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.?
Nessa auto-revelação que o texto maior de Clarice Lispector parece fazer de sua própria gênese, a falha da construção ? vitória e fracasso da linguagem ? subsistiria como fragmento.




- Clarice Lispector - Entrevista E Belos Textos
Entrevista de Clarice Lispector 24m. Esta importante entrevista com a nossa Clarice Lispector foi apresentada pelo programa Panorama Especial e transmitida pela TV Cultura em 1977. Através desse encontro com Clarice nós...
- O Paralelismo BiblÍco Na Obra De Clarice Lispector
“A paixão segundo G. H.” é uma romance que tem estilo de um relato confessional, por sua vez apresentado de um modo teológico/ religioso em que se evidencia um caráter paradoxal: santidade/ pecado; salvação/ danação, inferno/ paraíso....
- Literatura - Confira Os LanÇamentos Da Semana
Semana agitada no mundo da literatura. São vários os lançamentos dos mais variados livros com os mais variados temas que vão desde o mais puro romance a mais intensa estória dramática, de Clarice a Sparks. Confira aqui alguns destes lançamentos,...
- Entrevista Com Nelson Rodrigues
Quem acompanha o blog deve saber que os domingos são destinados às entrevistas. Nesse meio tempo entrevistamos as mais variadas personalidades artisticas do estado, desde figuras já consagradas até o pessoal que ainda busca maior espaço. Contudo,...
- Literatura: “a PaixÃo Segundo G.h.”, De Clarice Lispector
Romance original e perturbador, “A paixão segundo G.H.” conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de uma mulher, G.H., a protagonista-narradora, que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço,...
Cultura
CLARICE LISPECTOR - Entrelinhas - Benjamin Moser



O programa traz também um bate-papo com Benjamin Moser, o biógrafo que está apresentando a obra de Clarice Lispector ao mundo. Moser conheceu a escritora quase por acaso.
Depois de tentar aprender o idioma chinês, ele optou pelo português e acabou descobrindo a literatura enigmática da autora de Perto do Coração Selvagem.
Moser falou ao Entrelinhas sobre suas viagens à Ucrânia (país natal da escritora brasileira, onde conheceu as circunstâncias traumáticas de seu nascimento) e pelos outros países em que a Clarice viveu.
Recentemente,
a biografia escrita por Benjamin Moser
foi indicada pelo jornal New York Times
como um dos cem lançamentos mais importantes do ano.

CLARICE LISPECTOR:
A PAIXÃO SEGUNDO G. H ? Benedito NUNES
Benedito NUNES*
* Prof. do Departamento de Letras da UFAM
Reproduzido de Revista Expressão. UFPI, Teresina, 2(1)77-90, jan.-jul/ 1995 (crédito conforme o orientado no impresso)
A escolha deste assunto, "A Paixão Segundo G. H.", obedece ao interesse apaixonado por essa obra que há cerca de 3 anos me levou a coordenar para as Edition Archives da Maison de Angel Asturias, de Paris, sob o patrocínio da UNESCO, a edição crítica desse romance de Clarice Lispector.
Por força de tal incumbência tomaria contacto com o espólio da escritora. A surpresa foi chocante: para os vinte e cinco livros de Clarice Lispector, só encontramos um original completo o datiloscristo da coletânea por ela própria organizada dos seus primeiros contos, escritos em 1940 a 1941, entre 15 e 16 anos de idade, inéditos até 1979, quando foram editados postumamente sob o título de A Bela e a Fera. Excluída essa parte incipiente, imatura, da obra, no sentido de instância seminal do que foi realizado logo depois, pouco ou quase nada resta dos originais de Clarice Lispector.
Dividido, ainda hoje, ém dois acervos distintos, um público, acessível à consulta, e outro privado, pertencente aos herdeiros, o espólio literário de Clarice Lispector tem toda a aparência de uma coleção fortuita de despojos, pois o que aí prepondera, em contrastes com o datiloscrito antes referido ? peça solitária e mesmo excepcional, dadas as correções de próprio punho da escritora que dele constam ? são originais manuscritos, ou incompletos, como os de A Hora da Estrela e Água Viva, ou em forma fragmentada, como aqueles com os quais Olga Borelli organizou os últimos escritos postumamente editados ? Um So-pro de Vida (Pulsações) e os contos Um Dia a Menos e A Bela e a Fera ou a Fenda Grande Demais, incluidos na coletânea de 1979, já citada, que tomou aquele nome, A Bela e a Fera.
Nada, nem sinal havia do objeto específico de minha busca ? os originais de A Paixão. Pode-se imaginar o problema decorrente desse vazio Como se justificaria a realização de uma edição crítica do romance sem a reprodução do seu texto original, manuscrito ou datiloscrito? Mas segundo critério do editor A Paixão não poderia, pela sua importância, ficar excluída da coleção Archives dos livros de ficção representativos da literatura latino-americana. E, a exceção quebrando a regra, a obra acabou saindo assim mesmo ? privada da matriz de seu aparato crítico, embora compensada a falha pela inclusão no mesmo volume do facsímile do original do conto ? A Bela e a Fera ou Uma Feriada Grande Demais, obtido no Museu de Literatura (Casa Rui Barbosa) do Rio de Janeiro.
O primeiro tópico a ser abordado nesta ocasião é a importância do texto que me apaixona: diremos quais nos parecem ser as razões da insistência do editor em publicá-lo na sua coleção internacional, subsidiada mediante convênio com vários países da América Latina
O segundo e último tópico é o processo de escrita de Clarice Lispector, em íntima relação com a ascendência que o trabalho da linguagem tomou em sua obra, de modo particular naquele texto passional e apaixonante ? processo de escrita que, juntando forças como o acaso e a negligência, teria contri-huido para o estado final de pobreza do espólio da romancista.
A Paixão Segundo G. H. (1964) é o livro maior de Clarice Lispector ? maior no sentido de ser aquele que amplia os aspectos singulares de sua obra, extremando as possibilidades que nela se concretizam ? mas também um dos textos mais originais da moderna ficção brasileira. Tal como uma lente de aumento reveledora abre para o leitor e para o crítico, pelo poder de envolvimento da narrativa, a fronteira entre o real e o imaginário, entre linguagem e mundo, por onde jorra a fonte poética de toda ficção. Essa, a razão mais geral que justificava a insistência de editor.
De um lado A Paixão Segundo G. H. condensa a linha interiorizada de criação ficcional que Clarice Lispector adotou desde o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem (1944), linha que alcança naquele o seu ponto de viragem, por outro é um romance singular, não tanto em função da sua história quanto pela introspecção exacerbada, que condiciona o ato de contá-la, transformado em empate da narradora com a linguagem, levada a domínios que ultrapassam os limites da expressão verbal. Da singularidade do romance ? a segunda e definitiva razão ? trataremos daqui por diante.
O embate da narradora com a linguagem acompanha a tumultuosa narrativa de um êxtase. Quem a faz, sob o efeito da fascinação que sobre ela exerce uma barata doméstica, é G. H., personagem solitária designada pelas iniciais de seu nome ignorado.
Mulher de vida ordenada, independente, mundana, pratica escultura e mora num apartamento de cobertura ? localização privilegiada no topo da hierarquia social. Certa manhã, entra no quarto da empregada: arrumaria na ausência de sua ocupante, que se despedira, esse cubículo desolado, ? mal cabem ali guarda-roupa e cama ? onde ingressa pela primeira vez como se penetrasse em casa estranha, tanto se diferençava aquele quarto dos cômodos restantes.
É lá que vê o inseto; vê-lo emergir do fundo do guarda-roupa; bruscamente bate em cima dele a porta do móvel; e olha sua vítima inerme, esmagada, antes de dar-lhe o golpe de misericórdia:
"Era uma cara sem contorno. As antenas saiam em bigodes do lado da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras e grifos e leviatãs."

Passional na medida das paixões rudimentares e vertiginosas que descreve , A Paixão Segundo G. H. é patético na sua forma de expressão intensificada, calorosa, que emocionalmente se alteia seguindo o rastilho de imagens ardentes, encadeadas a idéias abstratas durante uma narração estirada, monólogo quase diálogo, graças ao expediente retórico, ao mesmo tempo signo de insuportável solidão da narradora-personagem, que finge segurai a mão de alguém enquanto escreve
"Ali estava eu boquiaberta e ofendida e recuada diante do ser empoeirado que me olhava. Toma o que eu vi: pois o que eu via com um constrangimento tão penoso e tão espantado e tão inocente era a vida me olhando."
"Como chamar de outro modo aquilo horrível e cru, matéria-prima e plasma seco, que ali estava, enquanto eu recuava para dentro de mim em náusea seca, eu caindo séculos e séculos dentro de uma lama, e nem sequer lama já seca mas lama ainda úmida e ainda viva, era uma lama onde remexiam com lentidão insuportável as raizes de minha identidade "

"Se soubesses da solidão desses meus primeiros passos. Não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como se eu já tivesse morrido e desse sozinha os primeiros passos em outra vida E era como a solidão chamasse de glória, e também eu sabia que era uma glória, e tremia toda nessa glória divina primária que não só eu não compreendia, como profundamente não a queria. "

Mas nesse deserto da alma antecipa a nova realidade onde ela chega, o nada onde ela entra, que tem a ardência do inferno e o refrigério do paraíso:?Eu entrava num deserto como nunca estive Era um deserto que me chamava como um cântico monótono e remoto chama. E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? "
A generalidade do sacrifício da paixão de G. H., pois que ela encontra em si "a mulher de todas as mulheres?, dá ao seu percurso o sentimento de uma peregrinação da alma, à semelhança de um intinerário espiritual, como nos escritos místicos de natureza confessional, mais freqüentes dentro da tradição cristã e menos dentro da hebraica, inspirados na interpretação alegórica dos textos sagrados. Estaríamos diante de um romance alegórico? Mais justificada parece a pergunta quando se constata, seja pela entrada e saída, de aridez, secura, solidão e silencio, seja pela contraditória visão do que é inefável (nada, gloria, realidade primária), o "contexto místico? do intinerário sacrificial de G.H. Pois, como não associar os freqüentes oxímoros ? "horrível mal estar feliz", "prazer infernal" ? os paradoxos e contradições com uma primary languagem of mysticism de que fala Charles Morris? E como não pensar nas entradas de Sta. Tereza DÁvila. na quietude do silêncio e no deserto de Mister Echardt??Foi assim que fui dando os primeiros passos no nada Meus primei ms passos hesitantes em direção à Vida e abandonando a minha vida. O pê pisou no ar. e entrei no paraíso e no inferno no núcleo "
Não sena descabido, portanto, que se repetisse para o leitor de hoje (nesta introdução de A Paixão Segundo G.H.,) a advertência de Dante ao Can Grande de Scala a propósito da Divina Comédia: "(?) devemos saber que esta obra não tem sentido simples, mas. ao contrário, pode-se até chamá-la de polisse mica, isto é, que tem mais de um significado: pois o primeiro é o que se tem da própria letra e o outro o que tira seu sentido daquilo que se diz pela letra. O primeiro chama-se literal, o segundo, alegórico ou místico "

Se A Paixão Segundo G H. faz jus à classificação de ro mance alegórico, sê-lo-á não no sentido medieval, mas no barroco de figuração multíplice de significação inexaurível, ou, como precisou o pensador judeu Gershom Scholem, retomando o conceito de alegoria de Walter Benjamin, de uma "rede infinita de significados e correlações em que tudo pode se transformar na representação de tudo, mas sempre dentro dos limites da linguagem e da expressão". Devido à multivalência das imagens e conceitos que o relato do estado de êxtase une, tudo nesse texto é um cerrado jogo de aparências sob o império de penosa e perversa ambigüidade.
O sacrifício da identidade pessoal de G.H., "a perda de tudo o que se possa perder e ainda ser" aparenta-se à crise violenta que anuncia uma conversão religiosa. Mas despojada de si mesma, mergulhando num momento de existência abismal que elimina o "individual supérfluo?, ela se anula como pessoa, nivelada à barata Infringindo a interdição hebraica de tocar no imundo, no impuro, no repugnante, também grotesco, assalta-a o acerbo sentimento da falta cometida, sem que rejeite o Pecado. E quando, afinal, comunga a massa branca do inseto transformado em Hóstia, esse ato assume a aparência de uma profanação, do nefando crime de sacrilégio.
A natureza crua da vida a que ela acede é ambígua: domínio do orgânico, do biológico, anterior à consciência, e também dimensão do sagrado, interdito e acessível, ameaçador e apaziguador, potente e inativo E ambíguo é o amor que o êxtase provoca: oposto ao ágape do cristianismo, impulsivo como o eros pagão, esse amor tende ao arrebatamento orgiástico e ao entusiasmo, precursor da transfusão dos coribantes no seio da divindade
Enfim, oscilando entre tudo e nada, do esvaziamento do Eu à plenitude vazia, a experiência crucial de G H., contraditória e paradoxal, emudece-lhe o entendimento e tolhe a sua palavra:
"Aquilo que eu chamava de nada
era no entanto tão colado a mim que me era., eu?
e portanto se tornava invisível como eu me era invisível,
e tornava-se um nada."
"A vida semeée eu não entendo o que digo."
Subvertida à realidade comum, revirado o mundo, o não humano torna-se o fundo insondável do que é humano.

Porém alertamos para o fato de que a visão transtornante da personagem-narradora é inseparável do ato de contá-la, como tentativa sua para reapossar-se do momento de iluminação estática, anterior ao começo da narração, e que a desapossou de si mesma. Só enquanto lembrança, na ordem sucessiva do discurso, poderá a narrativa substituir a subitaneidade do transe visionário. E, restituindo-o, devolver também ao novo Eu da enunciação em que o papel de narradora investe G H. , a identidade cuja perda constitui o cerne de sua história. Dividida entre a perda e a reconquista, entre o presente e o passado, o ato de narrar, dubitativo, voz indecisa de quem o perfaz, sem nenhuma certeza quanto ao que viveu e lhe terá sucedido, é um "relato dificultoso" e será menos um relato que uma construção do acontecimento:
" Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida E sem mentir. Criar sim. mentir não. Criar não é imaginação. é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo ? traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço e sem sequer entender para que valem os sinais (?).Até criar a verdade do que me aconteceu. Ah, será mais um grafismo que uma escrita pois tento mais uma reprodução do que uma expressão

À simples experiência imediata faltaria a palavra que lhe dá sentido, e a pura entrega ao imaginário cairia numa verbalização irredutível à experiência. A primeira nos fecharia num mundo pré-verbal, mentindo à linguagem; a segunda nos fecharia numa linguagem sem mundo, mentindo à realidade Criar consiste na infindável remissão do imaginário ao real e do real ao imaginário, como movimento da escrita, que traduz "O desconhecido para uma língua que desconheço?"
Em A Paixão Segundo G.H., a consciência da linguagem enquanto simbolização do que não pode ser inteiramente verbalizado, incorpora-se à ficção regida pelo movimento da escrita, que arrasta consigo os vestígios do mundo pré-verbal e as marcas "arqueológicas" do imaginário até onde desceu. G. H. tenta dizer a coisa sem nome, descortinada no instante do êxtase, e que entremostra no silêncio intervalar das palavras. Ivlas o que ela enuncia não pode deixar de simbolizar o substrato inconsciente da narração que, matéria comum aos sonhos e aos mitos, sobe das camadas profundas do imaginário que constituem o sub-solo da ficção. O "arqueológico" da ficção alimenta o que há de sacral e escatológico na possível alegoria.
É dramática a consciência da linguagem que acompanha o esforço da narradora para recuperar o transe visionário que a alienou. Daí tornar-se a narrativa o espaço agônico de quem narra e do sentido de sua narração ? o espaço onde a narrativa erra, isto é, onde ela se busca, buscando o sentido do real, que só se atinge quando a linguagem fracassa em dizê-lo:
"A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias Mas ? volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, ê que obtenho o que ela não conseguiu."

Dir-se-ia que a narrativa,
com o que tem de numinoso, trás a fluxo,
exacerbada, a introspecção, tudo o ,que escrever
implica de ameaçador e de metamórfico antes de ser mística,
a visão de G. H. pertence ao misticismo da escrita.

É justamente a ficção erradia, derivada desse misticismo, o ponto de viragem da obra de Clarice Lispector, iniciada em Perto do Coração Selvagem, sob a perspectiva da instropecção que culmina no êxtase de G. H
À época em que esse primeiro romance foi publicado, essa perspectiva representou um desvio estético relativamente aos padrões dominantes da prosa modernista em 1922 e da ficção de recorte neo-naturalista dos anos trinta, desvio que vinculou a autora, por afinidade, a Mareei Proust, Virginia Woolf e James Joyce, os fiecionistas da corrente da consciência ou da duração interior. A culminância daquela perspectiva em A Paixão Segundo G. H. é o transbordamento pletórico da dialética da experiência vivida ? a tensão entre a intuição instantânea e a sua expressão verbal mediada pela memória, que naturalizou o desvio estético como força propulsiva da ficção de Clarice Lispector.
A Paixão Segundo G. H., que extremou a consciência da linguagem já manifesta, depois de Perto do Coração Selvagem, em O Lustre (1946), A Cidade Sitiada (1949) e A Maçã no Escuro (1961), exacerbou esse desvio. Após o seu quinto romance, Clarice Lispector infringirá o molde histórico da criação romanesca e as convenções identificadoras da ficção em Água Viva (1974) e Um Sopro de Vida (1978).
O sinal inequívoco do ponto de viragem para esses textos é o gesto patético de G. H , que segura a mão de uma segunda pessoa enquanto está narrando, sem o que ela não poderia continuar o seu "difícil relato":
"Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão

Por esse motivo. A Paixão Segundo G H., onde vem culminar a dialética da experiência vivida, favorece a compreensão retrospectiva da ficcionista Clarice Uspector e contribui também para elucidá-la prospectivamente. Dessa forma, a gênese do romance que é, como possibilidade, o horizonte na direção do qual ela se move desde o início, está relacionado com o desenvolvimento de toda a sua obra.
Daí a relevância do fragmento como vestígio do instantâneo, que podemos surpreender no manuscrito incompleto de A Dela e a Fera ou Uma Ferida Grande Demais A comparação do texto primitivo com o texto em sua forma definitiva impressa revelaria a máxima proximidade entre o momento da elaboração e o momento de composição na escrita narrativa de Clarice Lispector Indelével, o momento da elaboração estampa-se na grafia tortuosa ? enviezada algumas vezes, ocupando as margens do papel ou desenvolvendo-se em linhas verticais ? do texto primitivo, também invadido por anotações circunstanciais estranhas ao curso da narrativa ? entre outras, o nome de um dentista a visitar ou o lembrete INPS lançados em uma folha avulsa. Tortuosa grafia da escrita vertiginosa de uma ficção erradia que culminou em A Paixão Segundo G. H.
De certo modo uma ritualização dessa vertigem como "misticismo da escrita" ? embate verbal com a experiência vivida, e, nesse sentido, tentativa para narrar o que não é narrável, A Paixão Segundo G H. traz a efervescência de seu momento de elaboração, concentrado no esforço poético da linguagem para dizer o indizível, que o momento da composição calcinaria
"A linguagem é o meu esforço humano Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas ? volto com o indizível O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.?
Nessa auto-revelação que o texto maior de Clarice Lispector parece fazer de sua própria gênese, a falha da construção ? vitória e fracasso da linguagem ? subsistiria como fragmento.
Esta suposição, que não poderá ser posta à prova, torna irreparável a perda dos originais de uma narrativa que se extremou na fixação do instante.
Benedito NUNES* * Prof. do Departamento de Letras da UFAM
Reproduzido de Revista Expressão. UFPI, Teresina, 2(1)77-90, jan.-jul/ 1995 (crédito conforme o orientado no impresso)
A escolha deste assunto, "A Paixão Segundo G. H.", obedece ao interesse apaixonado por essa obra que há cerca de 3 anos me levou a coordenar para as Edition Archives da Maison de Angel Asturias, de Paris, sob o patrocínio da UNESCO, a edição crítica desse romance de Clarice Lispector.
Por força de tal incumbência tomaria contacto com o espólio da escritora. A surpresa foi chocante: para os vinte e cinco livros de Clarice Lispector, só encontramos um original completo o datiloscristo da coletânea por ela própria organizada dos seus primeiros contos, escritos em 1940 a 1941, entre 15 e 16 anos de idade, inéditos até 1979, quando foram editados postumamente sob o título de A Bela e a Fera. Excluída essa parte incipiente, imatura, da obra, no sentido de instância seminal do que foi realizado logo depois, pouco ou quase nada resta dos originais de Clarice Lispector.
Dividido, ainda hoje, ém dois acervos distintos, um público, acessível à consulta, e outro privado, pertencente aos herdeiros, o espólio literário de Clarice Lispector tem toda a aparência de uma coleção fortuita de despojos, pois o que aí prepondera, em contrastes com o datiloscrito antes referido ? peça solitária e mesmo excepcional, dadas as correções de próprio punho da escritora que dele constam ? são originais manuscritos, ou incompletos, como os de A Hora da Estrela e Água Viva, ou em forma fragmentada, como aqueles com os quais Olga Borelli organizou os últimos escritos postumamente editados ? Um So-pro de Vida (Pulsações) e os contos Um Dia a Menos e A Bela e a Fera ou a Fenda Grande Demais, incluidos na coletânea de 1979, já citada, que tomou aquele nome, A Bela e a Fera.
Nada, nem sinal havia do objeto específico de minha busca ? os originais de A Paixão. Pode-se imaginar o problema decorrente desse vazio Como se justificaria a realização de uma edição crítica do romance sem a reprodução do seu texto original, manuscrito ou datiloscrito? Mas segundo critério do editor A Paixão não poderia, pela sua importância, ficar excluída da coleção Archives dos livros de ficção representativos da literatura latino-americana. E, a exceção quebrando a regra, a obra acabou saindo assim mesmo ? privada da matriz de seu aparato crítico, embora compensada a falha pela inclusão no mesmo volume do facsímile do original do conto ? A Bela e a Fera ou Uma Feriada Grande Demais, obtido no Museu de Literatura (Casa Rui Barbosa) do Rio de Janeiro.
O primeiro tópico a ser abordado nesta ocasião é a importância do texto que me apaixona: diremos quais nos parecem ser as razões da insistência do editor em publicá-lo na sua coleção internacional, subsidiada mediante convênio com vários países da América Latina
O segundo e último tópico é o processo de escrita de Clarice Lispector, em íntima relação com a ascendência que o trabalho da linguagem tomou em sua obra, de modo particular naquele texto passional e apaixonante ? processo de escrita que, juntando forças como o acaso e a negligência, teria contri-huido para o estado final de pobreza do espólio da romancista.
A Paixão Segundo G. H. (1964) é o livro maior de Clarice Lispector ? maior no sentido de ser aquele que amplia os aspectos singulares de sua obra, extremando as possibilidades que nela se concretizam ? mas também um dos textos mais originais da moderna ficção brasileira. Tal como uma lente de aumento reveledora abre para o leitor e para o crítico, pelo poder de envolvimento da narrativa, a fronteira entre o real e o imaginário, entre linguagem e mundo, por onde jorra a fonte poética de toda ficção. Essa, a razão mais geral que justificava a insistência de editor.
De um lado A Paixão Segundo G. H. condensa a linha interiorizada de criação ficcional que Clarice Lispector adotou desde o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem (1944), linha que alcança naquele o seu ponto de viragem, por outro é um romance singular, não tanto em função da sua história quanto pela introspecção exacerbada, que condiciona o ato de contá-la, transformado em empate da narradora com a linguagem, levada a domínios que ultrapassam os limites da expressão verbal. Da singularidade do romance ? a segunda e definitiva razão ? trataremos daqui por diante.
O embate da narradora com a linguagem acompanha a tumultuosa narrativa de um êxtase. Quem a faz, sob o efeito da fascinação que sobre ela exerce uma barata doméstica, é G. H., personagem solitária designada pelas iniciais de seu nome ignorado.
Mulher de vida ordenada, independente, mundana, pratica escultura e mora num apartamento de cobertura ? localização privilegiada no topo da hierarquia social. Certa manhã, entra no quarto da empregada: arrumaria na ausência de sua ocupante, que se despedira, esse cubículo desolado, ? mal cabem ali guarda-roupa e cama ? onde ingressa pela primeira vez como se penetrasse em casa estranha, tanto se diferençava aquele quarto dos cômodos restantes.
É lá que vê o inseto; vê-lo emergir do fundo do guarda-roupa; bruscamente bate em cima dele a porta do móvel; e olha sua vítima inerme, esmagada, antes de dar-lhe o golpe de misericórdia:
"Era uma cara sem contorno. As antenas saiam em bigodes do lado da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma i)arata tão velha como salamandras e quimeras e grifos e leviatãs."

Passional na medida das paixões rudimentares e vertiginosas que descreve , A Paixão Segundo G. H. é patético na sua forma de expressão intensificada, calorosa, que emocionalmente se alteia seguindo o rastilho de imagens ardentes, encadeadas a idéias abstratas durante uma narração estirada, monólogo quase diálogo, graças ao expediente retórico, ao mesmo tempo signo de insuportável solidão da narradora-personagem, que finge segurai a mão de alguém enquanto escreve
"Ali estava eu boquiaberta e ofendida e recuada diante do ser empoeirado que me olhava. Toma o que eu vi: pois o que eu via com um constrangimento tão penoso e tão espantado e tão inocente era a vida me olhando."
"Como chamar de outro modo aquilo horrível e cru, matéria-prima e plasma seco, que ali estava, enquanto eu recuava para dentro de mim em náusea seca, eu caindo séculos e séculos dentro de uma lama, e nem sequer lama já seca mas lama ainda úmida e ainda viva, era uma lama onde remexiam com lentidão insuportável as raizes de minha identidade "

"Se soubesses da solidão desses meus primeiros passos. Não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como se eu já tivesse morrido e desse sozinha os primeiros passos em outra vida E era como a solidão chamasse de glória, e também eu sabia que era uma glória, e tremia toda nessa glória divina primária que não só eu não compreendia, como profundamente não a queria. "

Mas nesse deserto da alma antecipa a nova realidade onde ela chega, o nada onde ela entra, que tem a ardência do inferno e o refrigério do paraíso:?Eu entrava num deserto como nunca estive Era um deserto que me chamava como um cântico monótono e remoto chama. E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? "
?Foi assim que fui dando os primeiros passos no nada .Meus primeiros passos hesitantes em direção à Vida e abandonando a minha vida. O pê pisou no ar. e entrei no paraíso e no inferno no núcleo "

Estaríamos
diante de um romance alegórico?
Mais justificada parece a pergunta quando se constata, seja pela entrada e saída, de aridez, secura, solidão e silencio, seja pela contraditória visão do que é inefável (nada, gloria, realidade primária), o "contexto místico? do intinerário sacrificial de G.H. Pois, como não associar os freqüentes oxímoros ? "horrível mal estar feliz", "prazer infernal" ? os paradoxos e contradições com uma primary languagem of mysticism de que fala Charles Morris? E como não pensar nas entradas de Sta. Tereza DÁvila. na quietude do silêncio e no deserto de Mister Echardt?
Não sena descabido, portanto, que se repetisse para o leitor de hoje (nesta introdução de A Paixão Segundo G.H.,) a advertência de Dante ao Can Grande de Scala a propósito da Divina Comédia: "(?) devemos saber que esta obra não tem sentido simples, mas. ao contrário, pode-se até chamá-la de polisse mica, isto é, que tem mais de um significado: pois o primeiro é o que se tem da própria letra e o outro o que tira seu sentido daquilo que se diz pela letra. O primeiro chama-se literal, o segundo, alegórico ou místico "
Mas se podemos afirmar que a obra de Clarice Lispector é de um polissemia perturbadora, o que nela "tira seu sentido daquilo que se diz pela letra", não pertence, como na Divina Comédia, à escala figurai do alegórico. Como se transitasse entre escombros da visão danteana, a simbologia religiosa utilizada por G. H não é mais, apesar da inflexão teológica de seu longo solilóquio, no tom confessional de uma penitente, a ilustração sensível do destino sobrenatural da alma humana Infer no e paraíso são o clímax patético da alma, o auge de um autoconhecimento vertiginoso enquanto descida no abismo da interioridade.
Se A Paixão Segundo G H. faz jus à classificação de ro mance alegórico, sê-lo-á não no sentido medieval, mas no barroco de figuração multíplice de significação inexaurível, ou, como precisou o pensador judeu Gershom Scholem, retomando o conceito de alegoria de Walter Benjamin, de uma "rede infinita de significados e correlações em que tudo pode se transformar na representação de tudo, mas sempre dentro dos limites da linguagem e da expressão". Devido à multivalência das imagens e conceitos que o relato do estado de êxtase une, tudo nesse texto é um cerrado jogo de aparências sob o império de penosa e perversa ambigüidade.
O sacrifício da identidade pessoal de G.H., "a perda de tudo o que se possa perder e ainda ser" aparenta-se à crise violenta que anuncia uma conversão religiosa. Mas despojada de si mesma, mergulhando num momento de existência abismal que elimina o "individual supérfluo?, ela se anula como pessoa, nivelada à barata Infringindo a interdição hebraica de tocar no imundo, no impuro, no repugnante, também grotesco, assalta-a o acerbo sentimento da falta cometida, sem que rejeite o Pecado. E quando, afinal, comunga a massa branca do inseto transformado em Hóstia, esse ato assume a aparência de uma profanação, do nefando crime de sacrilégio.
A natureza crua da vida a que ela acede é ambígua: domínio do orgânico, do biológico, anterior à consciência, e também dimensão do sagrado, interdito e acessível, ameaçador e apaziguador, potente e inativo E ambíguo é o amor que o êxtase provoca: oposto ao ágape do cristianismo, impulsivo como o eros pagão, esse amor tende ao arrebatamento orgiástico e ao entusiasmo, precursor da transfusão dos coribantes no seio da divindade
Enfim, oscilando entre tudo e nada, do esvaziamento do Eu à plenitude vazia, a experiência crucial de G H., contraditória e paradoxal, emudece-lhe o entendimento e tolhe a sua palavra:
"Aquilo que eu chamava de nada
era no entanto tão colado a mim que me era., eu?
e portanto se tornava invisível como eu me era invisível,
e tornava-se um nada."
"A vida semeée
eu não entendo o que digo."
Subvertida à realidade comum, revirado o mundo,
o não humano torna-se o fundo insondável do que é humano.

Porém alertamos para o fato de que a visão transtornante da personagem-narradora é inseparável do ato de contá-la, como tentativa sua para reapossar-se do momento de iluminação estática, anterior ao começo da narração, e que a desapossou de si mesma. Só enquanto lembrança, na ordem sucessiva do discurso, poderá a narrativa substituir a subitaneidade do transe visionário. E, restituindo-o, devolver também ao novo Eu da enunciação em que o papel de narradora investe G H. , a identidade cuja perda constitui o cerne de sua história. Dividida entre a perda e a reconquista, entre o presente e o passado, o ato de narrar, dubitativo, voz indecisa de quem o perfaz, sem nenhuma certeza quanto ao que viveu e lhe terá sucedido, é um "relato dificultoso" e será menos um relato que uma construção do acontecimento:
" Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida E sem mentir. Criar sim. mentir não. Criar não é imaginação. é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo ? traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço e sem sequer entender para que valem os sinais (?).Até criar a verdade do que me aconteceu. Ah, será mais um grafismo que uma escrita pois tento mais uma reprodução do que uma expressão
Viver não é relatável:
o momento da vivência, instantâneo,
escapa à palavra que expressa. Viver não é vivível :

a narrativa, enlace discursivo de significações, recria aquilo que se quis reproduzir. E como reproduzir o instante do êxtase, mudo, sem palavras, que remonta a um mundo não verbalizável?
À simples experiência imediata faltaria a palavra que lhe dá sentido, e a pura entrega ao imaginário cairia numa verbalização irredutível à experiência. A primeira nos fecharia num mundo pré-verbal, mentindo à linguagem; a segunda nos fecharia numa linguagem sem mundo, mentindo à realidade Criar consiste na infindável remissão do imaginário ao real e do real ao imaginário, como movimento da escrita, que traduz "O desconhecido para uma língua que desconheço?"
Em A Paixão Segundo G.H., a consciência da linguagem enquanto simbolização do que não pode ser inteiramente verbalizado, incorpora-se à ficção regida pelo movimento da escrita, que arrasta consigo os vestígios do mundo pré-verbal e as marcas "arqueológicas" do imaginário até onde desceu. G. H. tenta dizer a coisa sem nome, descortinada no instante do êxtase, e que entremostra no silêncio intervalar das palavras. Ivlas o que ela enuncia não pode deixar de simbolizar o substrato inconsciente da narração que, matéria comum aos sonhos e aos mitos, sobe das camadas profundas do imaginário que constituem o sub-solo da ficção.
O "arqueológico"
da ficção alimenta o que há de sacral
e escatológico na possível alegoria.

É dramática a consciência da linguagem que acompanha o esforço da narradora para recuperar o transe visionário que a alienou. Daí tornar-se a narrativa o espaço agônico de quem narra e do sentido de sua narração ? o espaço onde a narrativa erra, isto é, onde ela se busca, buscando o sentido do real, que só se atinge quando a linguagem fracassa em dizê-lo:
"A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias Mas ? volto com o indizível. O indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção, ê que obtenho o que ela não conseguiu."

Dir-se-ia que a narrativa, com o que tem de numinoso, trás a fluxo, exacerbada, a introspecção, tudo o ,que escrever implica de ameaçador e de metamórfico Antes de ser mística, a visão de G. H. pertence ao misticismo da escrita.
É justamente a ficção erradia, derivada desse misticismo, o ponto de viragem da obra de Clarice Lispector, iniciada em Perto do Coração Selvagem, sob a perspectiva da instropecção que culmina no êxtase de G. H
À época em que esse primeiro romance foi publicado, essa perspectiva representou um desvio estético relativamente aos padrões dominantes da prosa modernista em 1922 e da ficção de recorte neo-naturalista dos anos trinta, desvio que vinculou a autora, por afinidade, a Mareei Proust, Virginia Woolf e James Joyce, os fiecionistas da corrente da consciência ou da duração interior.
A culminância daquela perspectiva em A Paixão Segundo G. H. é o transbordamento pletórico da dialética da experiência vivida ? a tensão entre a intuição instantânea e a sua expressão verbal mediada pela memória, que naturalizou o desvio estético como força propulsiva da ficção de Clarice Lispector.
A Paixão Segundo G. H., que extremou a consciência da linguagem já manifesta, depois de Perto do Coração Selvagem, em O Lustre (1946), A Cidade Sitiada (1949) e A Maçã no Escuro (1961), exacerbou esse desvio. Após o seu quinto romance, Clarice Lispector infringirá o molde histórico da criação romanesca e as convenções identificadoras da ficção em Água Viva (1974) e Um Sopro de Vida (1978).
O sinal inequívoco do ponto de viragem para esses textos é o gesto patético de G. H , que segura a mão de uma segunda pessoa enquanto está narrando, sem o que ela não poderia continuar o seu "difícil relato":
"Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão

Por esse motivo.
A Paixão Segundo G H., onde vem culminar a dialética da experiência vivida, favorece a compreensão retrospectiva da ficcionista Clarice Uspector e contribui também para elucidá-la prospectivamente. Dessa forma, a gênese do romance que é, como possibilidade, o horizonte na direção do qual ela se move desde o início, está relacionado com o desenvolvimento de toda a sua obra.
Daí a relevância do fragmento como vestígio do instantâneo, que podemos surpreender no manuscrito incompleto de A Dela e a Fera ou Uma Ferida Grande Demais A comparação do texto primitivo com o texto em sua forma definitiva impressa revelaria a máxima proximidade entre o momento da elaboração e o momento de composição na escrita narrativa de Clarice Lispector Indelével, o momento da elaboração estampa-se na grafia tortuosa ? enviezada algumas vezes, ocupando as margens do papel ou desenvolvendo-se em linhas verticais ? do texto primitivo, também invadido por anotações circunstanciais estranhas ao curso da narrativa ? entre outras, o nome de um dentista a visitar ou o lembrete INPS lançados em uma folha avulsa. Tortuosa grafia da escrita vertiginosa de uma ficção erradia que culminou em A Paixão Segundo G. H.
De certo modo uma ritualização dessa vertigem como "misticismo da escrita" ? embate verbal com a experiência vivida, e, nesse sentido, tentativa para narrar o que não é narrável, A Paixão Segundo G H. traz a efervescência de seu momento de elaboração, concentrado no esforço poético da linguagem para dizer o indizível, que o momento da composição calcinaria
"A linguagem é o meu esforço humano Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas ? volto com o indizível O indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não conseguiu.?
Nessa auto-revelação que o texto maior de Clarice Lispector parece fazer de sua própria gênese, a falha da construção ? vitória e fracasso da linguagem ? subsistiria como fragmento.
Esta suposição,
que não poderá ser posta à prova,
torna irreparável a perda dos originais
de uma narrativa que se extremou
na fixação do instante.


Fonte:
Enviado por radarcultura em 15/12/2009
Licença padrão do YouTube
CONSCIÊNCIA:.ORG
CONSCIÊNCIA:.ORG
http://www.consciencia.org/clarice-lispector-a-paixao-segundo-g.h-benedito-nunes


loading...
- Clarice Lispector - Entrevista E Belos Textos
Entrevista de Clarice Lispector 24m. Esta importante entrevista com a nossa Clarice Lispector foi apresentada pelo programa Panorama Especial e transmitida pela TV Cultura em 1977. Através desse encontro com Clarice nós...
- O Paralelismo BiblÍco Na Obra De Clarice Lispector
“A paixão segundo G. H.” é uma romance que tem estilo de um relato confessional, por sua vez apresentado de um modo teológico/ religioso em que se evidencia um caráter paradoxal: santidade/ pecado; salvação/ danação, inferno/ paraíso....
- Literatura - Confira Os LanÇamentos Da Semana
Semana agitada no mundo da literatura. São vários os lançamentos dos mais variados livros com os mais variados temas que vão desde o mais puro romance a mais intensa estória dramática, de Clarice a Sparks. Confira aqui alguns destes lançamentos,...
- Entrevista Com Nelson Rodrigues
Quem acompanha o blog deve saber que os domingos são destinados às entrevistas. Nesse meio tempo entrevistamos as mais variadas personalidades artisticas do estado, desde figuras já consagradas até o pessoal que ainda busca maior espaço. Contudo,...
- Literatura: “a PaixÃo Segundo G.h.”, De Clarice Lispector
Romance original e perturbador, “A paixão segundo G.H.” conta, através de um enredo banal, o pensar e o sentir de uma mulher, G.H., a protagonista-narradora, que despede a empregada doméstica e decide fazer uma limpeza geral no quarto de serviço,...