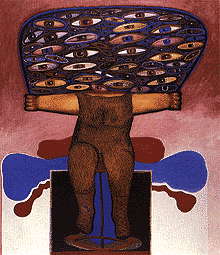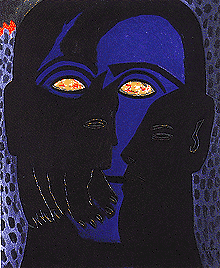Cultura





Fontes:
Vídeo enviado por RonaldoDuque em 01/11/2006
- Siron Franco 01
Siron Franco: Pintor, desenhista e escultor, Siron Franco nasceu em Goiás Velho, GO, em 1947. Passou sua infância e adolescência em Goiânia, tendo sua primeira orientação de pintura com D.J. Oliveira e Cleber Gouveia. Começou a ganhar a vida...
- Entrevista Com Humberto Gessinger
No próximo dia 24 de dezembro Humberto Gessinger completará 50 anos de idade. Até lá, o líder da banda Engenheiros do Hawaii já terá lançado seu novo disco solo: Insular. Neste novo trabalho, Gessinger escolheu não ter uma banda...
- Entrevista Djavan
Temos posto sempre artistas de muita relevância na coluna entrevista do Outros 300. Desta vez aproveitaremos e mataremos dois coelhos com uma cajadada só: Homenagearemos o aniversariante Djavan e ainda aproveitaremos e colocaremos uma bela entrevista...
- Entrevista Com O Cantor E Compositor Renato Casanova (banda Casaca)
Renato Casanova é músico, produtor musical e vocalista e principal compositor do grupo Casaca. Site do grupo Casaca: www.bandacasaca.com. Confira, abaixo, a entrevista com o cantor: 1 – Sabemos que você pertence a uma família de músicos...
- Entrevista Com O Cantor E Compositor Renato Casanova (banda Casaca)
Renato Casanova é músico, produtor musical e vocalista e principal compositor do grupo Casaca. Site do grupo Casaca: www.bandacasaca.com. Confira, abaixo, a entrevista com o cantor: 1 – Sabemos que você pertence a uma família de músicos (seu pai...
Cultura
Siron Franco




| |||||||||||||||||||||||||||

|

Fontes:
Vídeo enviado por RonaldoDuque em 01/11/2006
Documentário sobre a vida e obra do artista plástico goiano
Siron Franco. Parte 01
http://www2.uol.com.br/sironfranco/entrev.htm


Siron Franco. Parte 01
http://www2.uol.com.br/sironfranco/entrev.htm


loading...
- Siron Franco 01
Siron Franco: Pintor, desenhista e escultor, Siron Franco nasceu em Goiás Velho, GO, em 1947. Passou sua infância e adolescência em Goiânia, tendo sua primeira orientação de pintura com D.J. Oliveira e Cleber Gouveia. Começou a ganhar a vida...
- Entrevista Com Humberto Gessinger
No próximo dia 24 de dezembro Humberto Gessinger completará 50 anos de idade. Até lá, o líder da banda Engenheiros do Hawaii já terá lançado seu novo disco solo: Insular. Neste novo trabalho, Gessinger escolheu não ter uma banda...
- Entrevista Djavan
Temos posto sempre artistas de muita relevância na coluna entrevista do Outros 300. Desta vez aproveitaremos e mataremos dois coelhos com uma cajadada só: Homenagearemos o aniversariante Djavan e ainda aproveitaremos e colocaremos uma bela entrevista...
- Entrevista Com O Cantor E Compositor Renato Casanova (banda Casaca)
Renato Casanova é músico, produtor musical e vocalista e principal compositor do grupo Casaca. Site do grupo Casaca: www.bandacasaca.com. Confira, abaixo, a entrevista com o cantor: 1 – Sabemos que você pertence a uma família de músicos...
- Entrevista Com O Cantor E Compositor Renato Casanova (banda Casaca)
Renato Casanova é músico, produtor musical e vocalista e principal compositor do grupo Casaca. Site do grupo Casaca: www.bandacasaca.com. Confira, abaixo, a entrevista com o cantor: 1 – Sabemos que você pertence a uma família de músicos (seu pai...

 CIDADE DE GOIÁS - Conselho aos repórteres que forem entrevistar Siron Franco: levem duas cadernetas. Uma para anotar as idéias que brotam freneticamente do artista. Outra, para que ele ilustre o raciocínio com seus desenhos. (Benefício lateral: depois de escrita a reportagem, você terá em casa algumas obras autênticas de Siron Franco. De graça.) A conversa que se segue ocorreu num bom e simples restaurante, na Cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velho, terra natal do artista, entre goles de cerveja e um empadão goiano, prato típico da região.
CIDADE DE GOIÁS - Conselho aos repórteres que forem entrevistar Siron Franco: levem duas cadernetas. Uma para anotar as idéias que brotam freneticamente do artista. Outra, para que ele ilustre o raciocínio com seus desenhos. (Benefício lateral: depois de escrita a reportagem, você terá em casa algumas obras autênticas de Siron Franco. De graça.) A conversa que se segue ocorreu num bom e simples restaurante, na Cidade de Goiás, mais conhecida como Goiás Velho, terra natal do artista, entre goles de cerveja e um empadão goiano, prato típico da região.